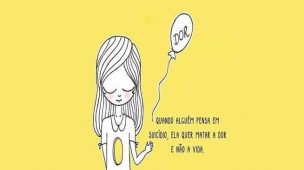Historicamente, o vazio no campo da atenção pública para crianças e jovens com sofrimento mental e a falta de uma diretriz política para instituir o cuidado nesta área foram preenchidos por instituições, na sua maioria de natureza privada e/ou filantrópica, que, durante muitos anos, foram as únicas opções de acompanhamento, orientação e/ou atenção dirigidas às crianças, aos adolescentes e aos seus familiares (BRASIL, 2005).
É muito recente a tomada de responsabilidade do Estado pelo cuidado de crianças e adolescentes com problemas mentais no Brasil. Apenas no início do século XXI foram propostas ações sob o marco da atenção psicossocial no SUS, para o desenvolvimento de redes de cuidado, suporte e tratamento dessa população (COUTO; DELGADO, 2015).
Embora já existisse no país experiências de serviços para crianças e adolescentes na perspectiva da Luta Antimanicomial, somente em 2001 foi instituído o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSI) como dispositivo da atenção psicossocial (BRASIL, 2001), aos moldes dos demais serviços para adultos.
Em 2005, foi publicado pelo Ministério da Saúde o documento “Caminhos para uma Política de Saúde Mental Infantojuvenil” (BRASIL, 2005), com os princípios e diretrizes para o cuidado de crianças e adolescentes com sofrimento mental grave e persistente.
A implantação dessa política favoreceu a constituição, ainda em construção, de um campo que circunscreve a Atenção Psicossocial Infantojuvenil, considerando as especificidades que esse público requer e ofertando visibilidade, acesso e atenção a crianças e adolescentes em sofrimento mental.
Princípios para o cuidado de crianças e adolescentes nos serviços de Saúde Mental
Temos que reconhecer que crianças e adolescentes sofrem psiquicamente e que esse sofrimento traz desdobramentos em seu desenvolvimento, nas relações e inserção/participação social. O sofrimento da criança/adolescente lhe diz respeito, mas não pode ser reduzido somente a ela e sua família, convocando a todos (Estado, comunidade, profissionais, instituições) a uma responsabilidade diante de tal circunstância.
É necessário considerar que a história desses sujeitos é atravessada e constituída por fatores biológicos, subjetivos, contextuais, sociais, culturais, evidenciando-se uma dimensão coletiva e não individual desse sofrimento. No entanto, o sofrimento, ainda que seja atravessado pelo coletivo, contém um elemento singular e único para cada sujeito, trazendo o inédito dessa situação, e exigindo-se o inédito também nas ações de cuidado. Essas ações devem ser pautadas no protagonismo das próprias crianças, adolescentes e de suas famílias (MOURA et al, 2021).
Ainda no documento “Caminhos para uma Política de Saúde Mental Infantojuvenil” (BRASIL, 2005) foram descritos os seguintes princípios para o cuidado na Saúde Mental para Crianças e Adolescentes (SMCA):
1) A criança ou o adolescente a cuidar é um sujeito
A noção de sujeito implica a de singularidade, que impede que o cuidado se exerça de forma homogênea, massiva e indiferenciada. As informações, vindas de outros não substituem a necessidade de que o profissional que recebe a criança ou a/o adolescente colete os elementos clínicos do caso, ouvindo dela própria, e de quem a trouxe ao serviço, sua história, o que desencadeou a busca por um serviço, e tudo o mais que poderá auxiliar no melhor entendimento da situação e na melhor forma de proceder aos cuidados.
Muitas vezes, as demandas de tratamento das crianças e adolescentes são formuladas por outros (famílias, instituições, profissionais), que tomam o lugar de fala desses sujeitos, trazendo narrativas sobre eles, sendo que essas necessidades refletem a percepção daqueles que as formulam, e não necessariamente das crianças e adolescentes.
Também são sujeitos de direitos, dentre os quais se situa o direito ao cuidado conforme especificado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em seu Art. 7º: A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência (BRASIL, 1995).
2) Acolhimento universal
Na Saúde Mental, esta noção é central e diz respeito tanto a uma posição a ser assumida pela/pelo profissional que recebe e acompanha uma/um usuária/o, como aos processos de trabalho que devem orientar o funcionamento dos serviços. Está diretamente relacionada à ampliação do acesso. As portas de todos os serviços públicos de Saúde Mental devem estar abertas a todo aquele que chega, ou seja, toda e qualquer demanda dirigida ao serviço de saúde do território, deve ser acolhida, recebida, ouvida e respondida.
Isso, no entanto, não implica que todo aquele que procura o serviço terá que ser necessariamente absorvido nos modos de tratamento existentes ali, mas na ideia de que acolher, ouvir e reconhecer a legitimidade da procura já é uma forma de cuidado, sempre possível, que pode dar lugar a diferentes encaminhamentos a depender do caso (BRASIL, 2005).
Os primeiros contatos são cruciais, a construção de um vínculo inicia-se nos primeiros atendimentos. Portanto, é importante cuidar para que a criança ou adolescente não se sinta pressionado, mas acolhido para falar do seu sofrimento. A/O profissional também não deve se sentir obrigada/o a resolver tudo ou a ter uma resposta “pronta ou final” logo no primeiro contato (ARANTES, 2014). É preciso atenção e tempo para o encontro entre aquele que cuida e aquele que é cuidado.
Um recurso interessante a ser utilizado é o acolhimento estendido, ou seja, agendar um segundo, terceiro ou quarto momento para que o pedido de ajuda possa ser melhor elaborado. Os pais ou responsáveis podem estar ansiosos no primeiro momento e a criança ou adolescente podem estar profundamente incomodados de ter ido ao serviço de saúde. A acolhida em si já costuma produzir efeitos que até parecem mágicos. Não é raro ouvirmos “Puxa, só com a nossa conversa minha filha já melhorou bastante da semana passada pra cá”.
3) Encaminhamento implicado
Os Serviços de SM devem oferecer uma escuta atenta e alguma resposta à questão trazida por quem o procura. Porém, como falamos anteriormente, isso não quer dizer incluir em atendimento regular todo aquele que chega (ARANTES, 2014). Algumas vezes a resposta pode ser um “Você precisa ser atendido em outro serviço, vou fazer contato com a outra equipe e acompanhar até que você seja incluído lá ou que receba uma resposta deles”, por exemplo.
Portanto, esse princípio exige que aquele que encaminha se inclua no encaminhamento, se responsabilize pelo estabelecimento de um endereço para a demanda, acompanhe o caso até seu novo destino, construindo redes. Encaminhar nunca deve ser tomado como um ato somente relacionado a preencher um papel, mas sim como uma atitude de implicação na condução do caso.
Conhecer e apropriar-se da história daquela família, apresentar o caso ao colega ou equipe do serviço para o qual se considera que será melhor atendida, ajudar a pensar na logística de transporte e deslocamento, checar se a criança ou adolescente de fato chegou e foi acolhida no serviço para o qual foi referenciado, são ações relacionadas ao encaminhamento implicado (ARANTES, 2014).
4) Construção permanente da Rede
O conceito de “rede” pode parecer intuitivo ao apontar para o conjunto de diferentes serviços envolvidos e os fluxos que possam se estabelecer entre eles. Entretanto, se reduzirmos a ideia de rede ao coletivo de serviços, corremos o risco de burocratizar e simplificar o conceito.
- Rede é uma forma de conceber e agir o cuidado. A concepção de rede articula a ação do cuidado para com o que se situa para fora e para além dos limites da instituição; trabalho com os demais serviços e equipamentos do território.
- A rede precisa ser internalizada na prática de cada profissional; precisa partir do princípio que o trabalho deve acontecer em corresponsabilidade entre profissionais de diferentes serviços, de modo a definir coletivamente melhores modos de conduzir o trabalho (ARANTES, 2014).
- A construção de rede tem estreita relação com a concepção de clínica ampliada (CAMPOS, 1997). Nessa concepção, as particularidades de cada caso são os determinantes para a construção de sua rede de suporte. Assim, nas redes, podem coexistir desde os recursos formais de um território (instituições e serviços), até os recursos informais e intersetoriais.
- A rede depende da intervenção de uma presença viva para sua construção; depende de que um serviço, equipe ou profissional faça valer sua necessidade e direção. A presença viva é o agente que protagoniza o processo (COUTO; DELGADO, 2010).
5) Território
O território é um campo que ultrapassa em todos os sentidos o recorte meramente regional ou geográfico que, no entanto, importa nele. É tecido pelos fios que são as instâncias pessoais e institucionais que atravessam a experiência do sujeito, incluindo: sua casa, a escola, a igreja, o clube, a lanchonete, o cinema, a praça, a casa dos colegas, o posto de saúde e todas as outras, incluindo centralmente o próprio sujeito na construção de seu território. Assim, o território é o lugar psicossocial do sujeito (BRASIL, 2005).
O território de cada criança ou adolescente, mesmo que sejam vizinhos, é único, e pode ultrapassar os limites da cidade ou até do estado em que moram.
6) Intersetorialidade na ação do cuidado
Nenhum serviço pode fazer tudo. Cuidar do sofrimento psíquico, do adoecimento e mesmo do enlouquecimento de crianças e adolescentes vai exigir que os setores da educação, da justiça, da assistência, do esporte e da cultura, entre outros, não só conversem, mas se articulem, trabalhem juntos, tencionem-se positivamente. Esse trabalho vai incluir um esforço de toda a equipe do CAPSI de conhecer o mandato de cada um dos parceiros nesta empreitada (ARANTES, 2014).
O trabalho dos serviços de saúde mental infantojuvenil deve incluir, no conjunto das ações a serem consideradas na perspectiva de uma clínica no território, as intervenções junto a todos os equipamentos – de natureza clínica ou não – que, de uma forma ou de outra, estejam envolvidos na vida das crianças e dos adolescentes dos quais se trata de cuidar. Compreendemos a intersetorialidade como práticas contextualizadas, sendo apoiadas por diferentes atores sociais, num exercício cotidiano de corresponsabilização pelo cuidado, pela construção de projetos de vida e pela garantia de direitos (TÃNO, MATSUKURA, 2015).
A concepção central é a de que o cuidado requer o partilhamento de conhecimento, de experiências e a corresponsabilização.
É fundamental e imprescindível que as equipes que lidam com casos complexos se reúnam frequentemente, pois poderão compartilhar impressões, angústias e experiências, tanto boas como ruins.
Quando pessoas se reúnem em torno de uma situação preocupante de uma criança ou adolescente devem montar um quebra cabeça a várias mãos. As peças são os fragmentos da história e dos percursos dela por cada um dos serviços e pouco a pouco a imagem vai se formando. O cuidado não pode se dar de outra forma a não ser fazendo junto, vivenciando junto, ensinando e aprendendo.
Mandato Terapêutico e Mandato Articulador do CAPSI
Os CAPSI tem como missão cuidar de crianças e adolescentes com necessidades em saúde mental e relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas, que vivenciam intenso sofrimento, cujos contextos, histórias, relações e (des)inscrições sociais exigem uma atenção complexa, em uma perspectiva que considere de forma integral a vivência psicossocial dos sujeitos (MOURA et al, 2021).
O atributo primordial desse serviço é a atenção psicossocial a crianças e adolescentes que vivenciam crises psicossociais, exigindo intensidade de atenção e absorção imediata, com intervenções mais ágeis e dinâmicas, bem como, a articulação intersetorial. O CAPSI, portanto, assume um duplo mandato: terapêutico/clínico e gestor/articulador (COUTO; DELGADO, 2010)
O mandato terapêutico corresponde ao cuidado realizado pela equipe multiprofissional para atender às necessidades clínicas de crianças e adolescentes, considerando os aspectos biológicos, psicológicos, relacionais e socioculturais. Esse cuidado se dá por meio de Projetos Terapêuticos Singulares (PTS), compreendidos como propostas de “ações voltadas à satisfação de necessidades e particularidades do sujeito em relação ao seu contexto, para produção de autonomia, protagonismo e inclusão social” (MOURA et al, 2021, p. 111).
O PTS é fundamentado nos princípios do acolhimento e da escuta qualificada, considerando as diferentes formas de expressão de crianças e adolescentes (brinquedos, desenhos, atividades manuais, artísticas, entre outras), e da promoção de espaços para produção de subjetividades e de convivência. Deve ser negociado, de forma democrática e horizontal, com os sujeitos e suas famílias, considerando o contexto em que vivem e os recursos do território.
Em momentos de crise, o CAPSI pode oferecer espaços de convivência e proteção, com oficinas, assembleias e outros dispositivos que atendam às necessidades dos casos. A depender da complexidade da situação e das necessidades de cada um, esses dispositivos também podem ser oferecidos fora da crise. Mas, é sempre importante trabalhar para a inserção das crianças e adolescentes nos diferentes espaços comunitários.
O PTS será agenciado pelo Técnico de Referência (TR) ou Equipe de Referência (ER), profissionais responsáveis pela integração da criança ou adolescente em situação de sofrimento mental no serviço e na rede. Nesse sentido, constitui um importante dispositivo do arranjo organizacional da saúde mental. A atuação de TR exige uma articulação de vários saberes e de diversos campos relacionais (familiar, laboral, social, cultural etc.), gerando múltiplas possibilidades de trocas, mas também demandando mediação de conflitos.
Por isso, a gestão e organização do serviço devem “garantir espaços sistemáticos de reuniões ou encontros que estabeleçam planejamento, discussões de caso, supervisão clínico-institucional, capacitação, enfim, espaços que considerem a complexidade e a intensidade das relações que pressupõem o campo da saúde mental” (SILVA; COSTA, 2010: p. 644).
Portanto, fazem-se necessários esses espaços que possibilitem e sustentem um coletivo de trabalho. Arranjos organizacionais, estabelecidos por meio de relações horizontais e democráticas de poder entre gestores e trabalhadores, que facilitem tais coletivos, promovendo ações em equipe, aliando autonomia e responsabilidade (MOURA et al, 2021).
Os CAPSI integram ao mandato terapêutico, o mandato de agenciamento da rede de cuidados em saúde mental no âmbito dos seus territórios, com excessiva ampliação do escopo de suas ações: o CAPSI, dessa forma, deve ser tomado como um dispositivo estratégico na construção da rede de atenção em SMCA e não apenas como um fim assistencial em si (COUTO, DELGADO, 2010).
Esse mandato convoca o CAPSI a conhecer as necessidades em saúde mental de crianças e adolescentes de seu território, assumindo o papel estratégico de articulador da rede intra e intersetorial. O CAPSI, em seu duplo mandato, atua dentro e fora do serviço, sendo lugar transitório, de passagem, em movimento de construção e produção de novos sentidos e novas possibilidades de ser/estar para crianças e adolescentes.
A construção da rede assume, então, um posicionamento metodológico, um modo de produzir o trabalho nos serviços que tanto agregue parcerias, como favoreça também aos TRs reconhecerem nos territórios contextos estratégicos para a construção dos PTS.
Considerações Finais
Considerando a trajetória histórica de invisibilidade e violação dos direitos das crianças e adolescentes no Brasil e a necessidade de reordenação das práticas que possam de fato garantir direitos, o trabalho, na perspectiva da construção de redes intersetoriais, se situa enquanto um posicionamento metodológico e ético central. A cobertura em SMCA, assim, não pode ficar restrita à oferta de serviços de saúde mental (CAPSI e outros), embora seja um ponto importante; mas deve ser potencializada pela articulação e pelo cuidado colaborativos entre diferentes setores públicos.
Referências Bibliográficas
- ARANTES, RL. Saúde Mental na Infância e Adolescência: Atenção Psicossocial na infância e adolescência. – Florianópolis (SC): Universidade Federal de Santa Catarina, 2014.
- BRAGA CP; OLIVEIRA AFPL. Políticas públicas na atenção à saúde mental de crianças e adolescentes: percurso histórico e caminhos de participação. Ciênc. saúde colet. 24 (2), Fev2019.
- BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995. 210p.
- __________. Lei no 10.216, de 03 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Diário Oficial da União, Brasília, DF.
- __________. Caminhos para uma política de saúde mental infantojuvenil / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – 2. ed. rev. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2005. 72 p.
- CAMPOS, GWS.A Clínica do Sujeito: por uma clínica reformulada e ampliada. Estratos, 1997.
- COUTO, MCV; DELGADO, PGG. Intersetorialidade: exigência da clínica na atenção psicossocial. In: LAURIDSEN-RIBEIRO, E.P.P; TANAKA, O.Y. (Orgs.). Atenção em saúde mental para crianças e adolescentes no SUS. São Paulo: Hucitec, 2010, p. 217-279.
- COUTO, MCV; DELGADO, PGG. Crianças e adolescentes na agenda política da saúde mental brasileira: inclusão tardia, desafios atuais. Psic. Clin., Rio de Janeiro, vol. 27, n.1, p. 17-40, 2015.
- MOURA, BR; PIMENTEL, FA; CID, MFB; MATSUKURA, TS.De quem é a crise? Contribuições para a atenção psicossocial de crianças e adolescentes. Em: FERNANDES, ADSA [et al.]. (org.). Saúde Mental de crianças e adolescentes e atenção psicossocial. 1 ed. Santana de Parnaíba, SP: Manole, 2021: p. 106-124.
- SILVA, EA; COSTA, II. O profissional de referência em Saúde Mental: das responsabilizações ao sofrimento psíquico. Rev. Latinoam. Psicopat. Fund., São Paulo, v. 13, n. 4, p. 635-647, 2010.
- TAÑO, BL; MATSUKURA, TS. Saúde mental infantojuvenil e desafios do campo: reflexões a partir do percurso histórico. Cad. Ter. Ocup. UFSCar, São Carlos, v. 23, n. 2, p. 439-447, 2015.